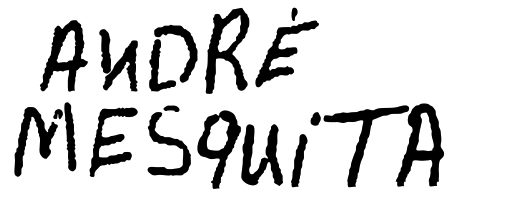Anotações sobre um mapa de conflitos
Em uma investigação feita pelo arquiteto Eyal Weizman e publicada em uma série de ensaios e no livro Hollow Land (2007), sobre a “arquitetura de ocupação de Israel”[1], deparamo-nos com uma situação cada vez mais freqüente: a capacidade que governos, exércitos, especialistas e corporações tem de administrar, sequestrar, cooptar e militarizar a inteligência coletiva e o discurso radical da arte e das ciências sociais em diversos aspectos.[2]
Imagine, por exemplo, o glossário que acompanha as táticas e as estratégias de artistas e ativistas em suas ideias e intervenções, como os conceitos de Gilles Deleuze e Félix Guattari, construídos e pensados na obra Mil Platôs (1980) – “liso e estriado”, “desterritorializacão” e “máquina de guerra nômade” – assim como “deriva”, “psicogeografia” e “desvio”, ligados historicamente ao projeto artístico-político da Internacional Situacionista, sendo apropriados e empregados na prática espetacularizada das operações do exército israelense na cidade de Nablus, na Cisjordania. Estes conceitos tornaram-se referências para as ações táticas de “caminhar atravessando muros”, como são denominadas as operações dos soldados da Forca de Defesa de Israel atacando campos de refugiados ou utilizando explosivos, furadeiras ou martelos para quebrar paredes e cruzar os cômodos das casas de palestinos, onde granadas de luz são lançadas e tiros são dados nas salas de estar ocupadas por famílias.[3] Até que a operação de captura de terroristas islâmicos ou membros da resistência palestina seja concluída, os moradores de uma casa podem ficar durante dias presos em um único cômodo sem água, comida e remédios.
Nas mãos dos estrategistas israelenses, o espaço liso de resistência nômade é invertido e transformado em invasão militar que ignora o espaço sedentário, estriado por barreiras e fronteiras físicas e particulares. A Força de Defesa de Israel entende o combate urbano como um “problema espacial”. Seus oficiais não poupam o uso de termos como “diferença e repetição” ou a citação de escritos anarquistas para explicar suas operações militares. Uma obra como Architecture and Disjunction (1996), do suíço Bernard Tschumi, é tão importante quanto qualquer conceito deleuziano, atesta Shimon Naveh, coordenador da base teórica da Força de Defesa de Israel. Para Naveh, Tschumi “tinha uma outra abordagem para a epistemologia, ele queria quebrar com a perspectiva única de conhecimento e pensamento centralizado. Tschumi viu o mundo através de uma variedade de diferentes práticas sociais, de um ponto de vista em constante mudança”.[4] Weizmen pergunta a Naveh porque ele não lê Derrida e a desconstrução ao invés de Tschumi? Naveh diz que “Derrida pode ser um pouco opaco para o nosso grupo. Nós dialogamos mais com arquitetos; combinamos teoria e prática. Podemos ler, mas sabemos bem como construir e destruir, e às vezes matar.”[5]
Claude Raffestin diz que o território “se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível.”[6] O território “é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que os homens constroem para si.”[7] Territórios são governados pela produção e disseminação de conhecimento, tanto quanto pela força militar, e os mapas são uma das principais ferramentas para a compreensão e a governança desses territórios. Eyal Weizman comenta que a tentativa dos militares, tecnocratas e ideólogos de Israel em desenhar mapas desde a Guerra dos Seis Dias (1967), quando a cartografia tornou-se uma obsessão nacional, foi impulsionada por uma visão expansionista do território onde se entrelaçam o conhecimento da terra e as ambições para possuí-la. As informações que eram transferidas para os mapas começaram a influenciar os próprios limites do território, para ajustá-lo de acordo com o que estava desenhado no papel. “Independente da natureza da espacialidade palestina, esta foi subordinada à cartografia israelense. O que estava sem nome no mapa deixou de existir como parte do campo político.”[8] Assim, muitos edifícios e vilarejos foram simplesmente apagados dos mapas “oficiais”, e a sua bidimensionalidade foi “espelhando e formando a própria realidade que pretendiam representar.”
‘Occupy’ o vazio
O espaço tornou-se um lugar de crescente conceitualização e de intriga, “como uma grande porcentagem do mundo que começa a existir online”, segundo o curador norte-americano Nato Thompson. “O mundo físico tornou-se um espaço de possibilidade e mitologia, assim que começamos a encará-lo como exceção ao invés da regra.”[9] No entanto, o próprio Google Earth e seus modelos tridimensionais da Terra apresentam manchas vazias em seus mapas, provavelmente escondendo a existência de um “mundo secreto” de atividades militares e de inteligência, detalhadas pelo geógrafo e artista Trevor Paglen em sua pesquisa sobre este assunto, e que mostra bases militares clandestinas, prisões, vôos de tortura e laboratórios espalhados pelo globo. Um mundo que não aparece nos “mapas oficiais”, mas que movimenta cerca de US$ 50 bilhões anuais de investimentos e emprega quatro milhões de pessoas trabalhando com habilitações de segurança nos Estados Unidos.[10]
Parto dessas detalhadas considerações sobre as formas de controle territorial e de seus limites não por mero acaso, mas porque elas me fazem realmente pensar todos os dias sobre a construção de uma visão e de um caminho alternativo mais justos numa sociedade capitalista e extremamente repressiva. Mas, basta olharmos as recentes manifestações ocorrendo pelo planeta – do movimento de “Democracia Real” na Espanha aos estudantes do Chile exigindo “gratuidade” na educação, em Wall Street e nas acampadas em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo – para percebemos que os indignados estão ocupando de forma legítima as “manchas vazias” dos espaços do capital e de seu sistema financeiro falido, onde prevalecem o discurso conservador do controle e da indiferença aos bens comuns. Esses movimentos nos trazem boas perguntas: quais outros espaços podemos ocupar para agir de agora em diante? O que significa falar de “ação política” no nosso dia-a-dia? Em que medida as práticas artísticas podem também colaborar para que as pessoas se encontrem neste território coletivo, para experimentar formas criativas de comunicar suas demandas, de contribuir com a representação direta dos movimentos sociais e escrever a história dessas iniciativas? E ainda, como contestar a autoridade ou revelar a natureza opressiva que se instala não apenas a partir de barreiras, muros, violência policial e de um estado de exceção, mas também pelo discurso dos mapas normativos?
No calor atual desses acontecimentos, questões estão surgindo de maneira quase espontânea. É por isso que as cartografias dominantes deste mundo em crise precisam ser radicalmente desestabilizadas, descobrindo os seus silêncios e omissões, suas agendas ocultas, imaginando e realizando intervenções coletivas e mapas dissidentes que nos permitam ir além das ideias e ordens estabelecidas. Proponho pensarmos sobre a importância de nos orientarmos e de nos situarmos de forma cada vez mais crítica e criativa diante dessas inúmeras formas de limite, mapeamento e demarcação territorial, bem como uma eventual e necessária superação, atravessamento, destruição ou reordenação conceitual, social ou política dos espaços de violência e de conflito.
Interstícios e rupturas
A ideia da vida como um teatro de lutas torna-se realmente marcante nesse contexto de produção de imaginários urbanos, e creio que uma das imagens mais interessantes sobre isso está representada em uma instalação criada nos anos setenta pelo artista sueco/brasileiro Öyvind Fahlström. Após acompanhar as noticias de uma reunião do Banco Mundial em Copenhagen e as manifestações ocorridas nas ruas contra este encontro, Fahlström criou esta instalação como um tableau teatral onde no Centro dele são colocadas reproduções de barras de ouro. Ao redor das barras, figuras de países e silhuetas simbolizando o Terceiro Mundo pressionam o Banco Mundial.[11]
Será que com World Bank, Fahlström teria previsto o que aconteceria décadas depois com os movimentos anti-capitalistas, tentando impedir as reuniões do Banco Mundial, do FMI e do G8 em alguma cidade européia, ou mesmo a situação atual dos ativistas ocupando Wall Street? World Bank pode ser visto como um mapa ou um jogo onde os dados sociais econômicos de um mundo em crise manifestam-se contra a ganância que se esconde por detrás dos muros, cercas e fortalezas protegendo os poucos indivíduos que tomam decisões que afetarão bilhões de outros. Isso certamente nos convoca a tomar as ruas e fazer alguma coisa.
Cidades não são apenas um espaço físico, mas também um espaço social, de relações sociais atravessadas por lutas sociais que agem nos interstícios da vida cotidiana. Quando falo a palavra “interstício”, eu me refiro as considerações feitas pelo sociólogo Pascal Nicolas-le Strat em um projeto com o coletivo francês Atelier d’Architecture Autogeree (AAA), projeto este chamado de Urban Tactics. Para o sociólogo, os interstícios representam aquilo que restam de resistência nas grandes cidades, lutando contra a normatividade, a regulação e a homogeneização.[12] O interstício é político em si mesmo e busca quebrar com a organização clássica de cidade. O status provisório e muitas vezes incerto de um interstício permite vislumbrar e experimentar outras formas de criação em uma “cidade de muros”, aberta também à colaboração e à cooperação. Ao trabalhar nos interstícios e rupturas, uma multiplicidade de forças desprezadas ou obscurecidas reaparece e nos coloca em meio a novas perspectivas.
Me interessa pensar na abertura possível de interstícios e a expressão de seus processos políticos, e aqui cabe uma pergunta interessante. Qual foi o interstício produzido pela arte ao sair do confinamento dos museus e das galerias indo para outros espaços e contextos? Qual a chance radical da arte e do ativismo ativarem esses interstícios, colocando-se muitas vezes de forma violenta ou tornando visíveis outros tipos de violência, comunicando ou confrontando os acontecimentos que estão ao nosso redor?
Voltemos ao final dos anos sessenta na Argentina, em um período extremamente repressivo na America Latina, quando a artista Graciela Carnevale encerrou o “Ciclo de Arte Experimental”, realizado pelo Grupo de Artistas de Vanguardia desde maio de 1968 na cidade de Rosario. O público havia sido convidado a participar de uma nova inauguração do ciclo em uma galeria. Em um momento da inauguração, Graciela sai e fecha a única porta de entrada do lugar. Confinados, os visitantes tornam-se o material social da obra e suas reações seriam imprevisíveis. Passado algum tempo, o público participante começa a reagir. Algumas pessoas retiram os cartazes pregados que cobriam o vidro do local e começam a buscar uma saída. Em um relato, Graciela diz que a tensão entre o dentro e o fora foi tão grande que o chute da pessoa que quebrou o vidro veio de fora da galeria, como uma ação de resgate daquele grupo aprisionado. Uma foto mostra uma mulher saindo agachada debaixo do vidro rompido. Em seguida, a polícia chega e encerra o evento na noite de 7 de outubro de 1968, ano do primeiro aniversário de captura e prisão de Che Guevara.
Graciela escreve que, mediante a um ato de agressão, a obra tentou provocar uma tomada de consciência por parte do espectador sobre o poder que é exercido diariamente pela violência. Para a artista, a violência é exercida tanto como uma forma sutil de coerção do pensamento, onde somos submetidos todos os dias a manipulações ou mentiras publicadas pela imprensa, como a própria existência da violência física ou imposta por um governo autoritário.[13] Brian Holmes faz uma provocação interessante a partir da proposição de Graciela Carnevale. Será que não podemos também ler o “encarceramento” realizado por Graciela como uma alegoria de como as classes sociais são transformadas dentro das condições de urgência?[14] Mas, eu ainda pergunto: como que os artistas e ativistas agem em uma situação de coerção, passividade, manipulação ou violência? Que reações imprevisíveis suas ações podem provocar? Em que lugar a materialização de um ato agressivo como gesto artístico em um museu coloca autor, público, obra e espaço?
Em um outro contexto, penso por exemplo no protesto realizado em novembro de 1969 pelos membros do coletivo norte-americano Guerrilla Art Action Group (GAAG), quando entraram no lobby do Museu de Arte Moderna de Nova York com os corpos cobertos de sangue de origem animal e distribuíram panfletos exigindo a demissão dos membros da família Rockefeller da curadoria do museu. Esta performance pretendia mostrar que os Rockefeller usavam a arte como disfarce, “como cobertura para o seu envolvimento brutal em todas as esferas da máquina de guerra.” Os museus tornaram-se o local apropriado para as manifestações contra a guerra do Vietnã. Como disse na época Jean Toche, membro do GAAG, “lutar pelo controle do museu é também ser contra a guerra.”[15] A performance violenta deste grupo conseguiu explorar a visibilidade do espaço museológico para divulgar o seu manifesto, muito próximo da linguagem usada pelos movimentos de guerrilha da América Latina: um texto que mostrava as relações dos Rockefeller com as companhias que produziam Napalm e armamentos para guerra do Vietnã.
Em atos de violência patrocinados por um governo autoritário e pela polícia, como aconteceu no México com o Massacre de Tlatelolco em 1968, onde centenas de estudantes que reivindicavam melhores condições para a educação foram mortos e muitas pessoas foram torturadas e assassinadas nos anos seguintes, museus como o Palacio de Bellas Artes, construído no início do século XX durante o governo do ditador Porfirio Díaz, pareciam aparentemente desconectados com a realidade política e social das ruas. Quando convidados para uma exposição neste mesmo museu em 1973, os integrantes do coletivo Proceso Pentágono decidiram usar este convite para expor a disparidade entre o espaço “monumental e limpo” daquela instituição com o seu entorno. No projeto intitulado A nivel informativo, o grupo realizou ações em ruas próximas ao museu. Uma delas, chamada de El hombre atropellado, consistiu em tornar visível a explosão urbana e demográfica ocorrida na Cidade do México entre os anos sessenta e setenta em meio a um cotidiano violento e caótico. Folhas de plástico com um contorno de um corpo humano feito com tinta vermelha eram colocadas no meio de avenidas, onde os pneus dos carros deixavam a sua marca na imagem como se fosse o resultado de um terrível acidente. Durante a intervenção, o grupo pedia para que os pedestres descrevessem a sua reação ao suposto acidente usando apenas uma palavra, que era registrada em cartolinas colocadas depois pela calçada.
A cidade pode se transformar em um lugar onde uma cartografia do poder e de relações coercivas muitas vezes obscuras ou perdidas são apontadas, como colocar no lado de fora o que acontece na parte de dentro das prisões cercadas por seus muros. Esta foi a proposta de trabalho do Grupo do Trecho, que começou a visitar uma penitenciária feminina em São Paulo e realizou uma intervenção em uma parte da Avenida Paulista. O grupo desenhou um mapa da prisão que foi completado com a participação do público, “considerando as relações que envolvem e compõem essa realidade, superando a mera geografia, mas sem desconsiderar a questão espacial.” Como diz o grupo:
Sabemos que há um dentro e um fora bem definidos e que há aqueles que atravessam a linha, indo ou vindo, e há os que não fazem isso de maneira alguma, os que se adequam e buscam estar seguros. Mas, o que transforma alguém em “inadequado” ao convívio social? E de que maneira é possível readequar alguém? Ou “ressocializar”… Quais são os resultados dessa lógica da punição de estrutura punitiva? Quantos entre os que caminham pela Av. Paulista às 15h de uma sexta-feira de feriado conhecem bem o funcionamento um presídio por dentro? Quantos podem ser ex-detentos? Quantos se importam com o assunto? E quantos mal tinham parado pra pensar sobre isso alguma vez na vida? Ele foi feito a giz… Ele se amplia. […] O mapa da prisão mapeia também e muito bem as relações sociais que escolhemos vivenciar ou não na cidade.[16]
Mapas impulsionados por coletivos de artistas e ativistas trazem as potencialidades de prefigurar espaços de transformação e trocas, reconsiderando a cartografia como um arquivo vivo, como um atlas que reúne e rearticula imagens, diagramas, histórias e reflexões de uma memória no tempo presente, motivando instâncias de participação que nos convidam a agir. Um de seus usos mais interessantes está nas ações dos coletivos argentinos, como o Etcétera e sua Cartografía Errorista – uma performance realizada em 2009 com seus integrantes cobertos de poeira e ataduras como se estivessem sido vítimas de um ataque ocorrido em uma “zona de erro” na única cidade do mundo (Buenos Aires) onde uma avenida chamada Estado de Israel cruza com a Rua Palestina.
Com o Etcétera (que em 2005 começou a denominar-se Internacional Errorista), o Grupo de Arte Callejero (GAC) começou a colaborar nos anos noventa com os H.I.J.O.S.[17] e a invenção dos escraches para estimular a condenação social e o constrangimento público dos torturadores do regime militar argentino, interpelando sobre a ausência de condenação legal. A própria palavra escrache remete à ação de “lançar luz sobre o que está oculto”, de “revelar o que o poder esconde”, e esse é exatamente um dos papéis políticos dos mapas dissidentes e de suas intervenções. O GAC contribuiu com uma série de dispositivos simbólicos e visuais para os escraches, mas uma de suas ferramentas gráficas refere-se ao desenho de um mapa anônimo que é colado na rua como um cartaz e mostra os nomes e os endereços de centenas de genocidas escrachados. Este “mapa de acumulação de ações e lutas”, como denomina o GAC, é posteriormente atualizado com novas denúncias. O escrache, observam a Mesa de Escrache Popular e o Colectivo Situaciones, permite a criação de um mapa vivo dos modos de existência e da memória dos bairros que percorre, e que para além de uma cartografia gráfica, “constrói espaços onde a memória deixa de ser um passado distante e transcendente para mostrar-se em seu significado atual.”[18]
O mapa desenhado pelo GAC convoca a própria estrutura social e espacial da cidade a se posicionar. O muro torna-se um lugar de denúncia. Esta contaminação social de imagens disseminadas pelos muros recorda um pouco da potencialidade de reverberações imprevisíveis que as práticas coletivas de ativismo artístico conseguiram alcançar em um outro momento na Argentina. O Siluetazo (1983) é uma delas, um projeto dos artistas Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores e Guillermo Kexel de criar silhuetas dos corpos das pessoas impressas em papel e em tamanho natural, coladas depois em muros, árvores e monumentos para reclamar a “aparição com vida” dos 30 mil desaparecidos durante o período mais repressivo da ditadura militar Argentina, entre 1976 e 1983. Sua prática recebeu o apoio das Mães da Praça de Maio e das organizações de direitos humanos, coincidindo com a demanda de um movimento social e implicando uma ação coletiva que toma o corpo e o impulso de uma multidão.[19]
Versões recentes das silhuetas apareceram durante os escraches, mais precisamente com a convocatória realizada pelo coletivo Arde! Arte logo após as revoltas populares de 2001 naquele pais. Durante o escrache contra o ex-ministro da economia da ditadura argentina, Roberto Alemann, os manifestantes se posicionaram diante do cordão policial formando um muro de espelhos. Aquela linha de frente de pranchas com lâminas espelhadas devolvia ao corpo da repressão a sua própria imagem deformada, junto de um chamado imperativo: vete y vete, algo como “se olhe e se mande”.
Ações criativas em uma manifestação recuperam uma experiência não-alienada das festividades coletivas e envolvem um grande processo de participação e organização social.[20] Em situações como os acontecimentos ocorridos em Londres em 2010, com milhares de estudantes, ativistas e professores saindo às ruas para protestar contra o aumento no valor das taxas de anuidades das universidades dizendo “eles dizem corte, nos dizemos lute”, tendo um bloco de livros defendendo os manifestantes contra os ataques policiais que ameaçavam bater com seus cassetetes, uma imagem realmente potente surge nesses interstícios. Aquele bloco de livros formou não apenas um escudo de proteção contra a violência, mas deu voz, cor e palavras a uma reivindicação tática de uma cultura de oposição contra o espetáculo da opressão e da desigualdade, agindo no território da mudança, da solidariedade e de um entusiasmo invadindo as ruas.
Creio que uma transformação social pode começar com esses momentos que podem ir para além de um bairro, de uma cidade ou de um país – para além de todos e quaisquer muros, como um mapa em escala 1:1. Como diz um texto do Comitê Invisível:
Os movimentos revolucionários não se disseminam por contaminação, mas por ressonância. Algo que se constitui aqui ressoa com a onda de choque emitida por algo constituído em outro lugar. […] Uma insurreição não é uma praga ou um incêndio florestal – um processo linear que se propaga de um lugar para outro depois de uma centelha inicial. É algo que toma a forma de uma música, cujos pontos focais, apesar de dispersos no tempo e no espaço, conseguem impor o ritmo de suas próprias vibrações, sempre com mais densidade.”[21]
NOTAS
[1] Ver WEIZMAN, Eyal. Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation. Londres: Verso, 2007.
[3] WEIZMAN, Eyal. “The art of war: Deleuze, Guattari, Debord and the Israeli Defence Force”, 2006. Disponível em: http://www.metamute.org/?q=en/node/8192.
[4] WEIZMAN, 2007. p. 200.
[5] Idem.
[6] Raffestin, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Editora ática, 1993. p. 143 e 144.
[7] Idem.
[8] WEIZMAN, Eyal. “The Politics of Verticality”, 2002. Disponível em: http://www.opendemocracy.net/conflict-politicsverticality/debate.jsp.
[9] Trecho de uma entrevista com Nato Thompson realizada por mim em 16 de maio de 2011.
[10] PAGLEN, Trevor. Blank Spots on the Map. The Dark Geography of the Pentagon’s Secret World. Nova York: Dutton, 2009. p.4
[11] Ver CHEVRIER, Jean-François et al. Öyvind Fahlström: Another Space for Painting. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2001.
[12] Nicolas-le Strat, Pascal. “Interstitial Multiplicity”, in Atelier d’Architecture Autogeree (ed.). Urban Act, a handbook for alternative practice. Paris: AAA-PEPRAV, 2007. p. 314.
[13] LONGONI, Ana e MESTMAN, Mariano. Del Di Tella a Tucumán Arde. Buenos Aires: Eudeba, 2008. p. 152.
[14] HOLMES, Brian. Unleashing the Collective Phantoms: Essays in Reverse Imagineering. Nova York: Autonomedia, 2008. p. 176.
[15] BRYAN-WILSON, Julia. Art Workers: Radical Practice in the Vietnam War Era. Berkeley: University of California Press, 2009. p. 18.
[16] Texto disponível em: http://grupodotrecho.blogspot.com/2010/07/necessidade-de-exteriorizar-o-que-se.html.
[17] Grupo de direitos humanos formado por filhos de desaparecidos e exilados durante o período de “Guerra Suja” do terrorismo de Estado do regime militar.
[18] GRUPO DE ARTE CALLEJERO. Pensamientos Practicas y Acciones. Buenos Aires: Tinta Limón, 2009. p. 85.
[19] LONGONI, Ana e BRUZZONE, Gustavo. El Siluetazo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008. p. 8.
[20] Ver GRAEBER, David. Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire. Oakland: AK Press, 2007.
[21] THE INVISIBLE COMMITTEE. The Coming Insurrection. Los Angeles: Semiotext(e), 2009. pp. 12 e 13.
André Mesquita | setembro de 2011.
Imagem: Öyvind Fahlström. World Bank, 1971.